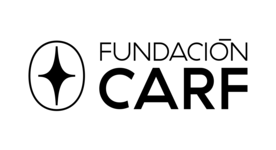El padre Queirós Figueras nació en Angola hace 42 años. Estudia Comunicación Institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. De niño padeció los sufrimientos de la guerra en su país. Y como sacerdote, ha visto el desastre en términos de pobreza y falta de desarrollo. «Desafortunadamente, los casi treinta años de conflicto militar han provocado, en Angola, no sólo víctimas y refugiados, sino también pérdidas de capital físico y económico», afirma.
Como la mayoría de los niños de su generación, tuvo que huir de la guerra. “Nací en un pueblo llamado Utende, en el municipio de Kibala, pero tuve que mudarme con mi familia a la ciudad de Luanda, donde crecí en las afueras de la capital con mis padres y hermanos, siendo yo el segundo hijo de siete hermanos. Nos tuvimos que escapar debido a la guerra civil que vivía el país en ese momento, en 1983”, señala.
La fe y el apoyo de su familia le ayudó a combatir el miedo al conflicto. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2010 en la Diócesis de Viana, por Monseñor Joaquim Ferreira Lopes, primer obispo de esa misma diócesis.
La reunificación de familias separadas por la guerra es una de las prioridades de Angola. “Después de la guerra, los gobiernos angoleños lanzaron una estrategia de lucha contra la pobreza que afectó sobre todo a las zonas rurales, pues la guerra limitó el acceso de la población a las áreas de cultivo y los mercados, y destrozó los recursos de los campesinos”, relata el P. Queirós.
La Iglesia católica, en particular, a través de sus misioneros, sigue tratando de ayudar al gobierno en la reconstrucción del tejido social, en proporcionarle a la población alimentos, instrucción y formación profesional, además de asistencia sanitaria en la lucha contra el SIDA.