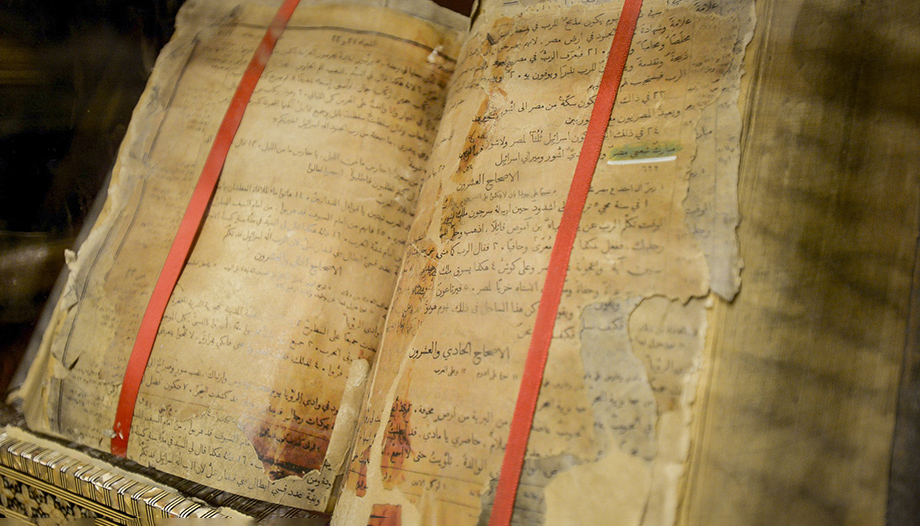O cristianismo, embora tenha nascido com um livro no berço - a imagem vem de Lutero, para quem a Bíblia era a manjedoura onde Jesus foi deitado -, não é um livro religião mas uma religião de tradição e escritura. O mesmo acontecia com o judaísmo, sobretudo antes da destruição do Templo. Esta nota é clara quando se fala de religiões comparadas. (M. Finkelberg & G. Stroumsa, Homero, a Bíblia e mais além: cânones literários e religiosos no mundo antigo)..
No entanto, uma sucessão de factores - mais práticos do que teóricos - tem gerado alguma confusão. Os teóricos da memória colectiva (J. Assmann) salientam que, 120 anos depois de um acontecimento fundador, a memória comunicativa de uma comunidade se consubstancia numa memória cultural, onde os artefactos culturais criam coesão entre o passado e o presente.
No entanto, as comunidades religiosas ou culturais que sobrevivem ao longo do tempo caracterizam-se por dar prioridade à conetividade textual em detrimento da conetividade ritual.
Foi mais ou menos o que aconteceu no início do século III na Igreja, quando a teologia foi concebida como um comentário às Escrituras. Mais tarde, com o aparecimento do Islão, religião do livro desde a sua origem, e o desenvolvimento do judaísmo como religião sem Templo, a ideia de religiões de revelação foi assimilada às religiões do livro: o cristianismo, religião de revelação, foi assim colocado num lugar que não era o seu: uma religião do livro.
Em terceiro lugar, Lutero e os pais da Reforma, com a sua redução da ideia de tradição a um mero costume da Igreja (consuetudines ecclesiae)rejeitou o princípio da Tradição a favor da Sola Scriptura.
Por fim, o Iluminismo, com a sua desconfiança em relação à tradição, só aceitou uma interpretação da Escritura que fosse crítica, também e sobretudo, da tradição.
Nas comunidades da Reforma, a sucessão destes factores conduziu muitas vezes a uma dupla interpretação da Escritura: ou a mensagem se dissolvia no laicismo proposto pela crítica, ou a crítica era dispensada e desembocava no fundamentalismo.
A tradição na Igreja Católica
Na Igreja Católica, por outro lado, a abordagem era diferente. Desde Trento, a Igreja Católica referia-se ao tradições apostólicas -os dos tempos apostólicos, não os costumes da Igreja - como inspirados (ditaduras) pelo Espírito Santo, e depois transmitida à Igreja. Por isso, a Igreja recebeu e venerou com igual afeto e reverência (pari pietatis affectu ac reverentia) tanto os livros sagrados como as outras tradições.
Mais tarde, o Concílio Vaticano II clarificou um pouco a relação entre a Escritura e a Tradição. Afirmou, em primeiro lugar, que os apóstolos transmitiram a palavra de Deus através da Escritura e das tradições - a Tradição é assim concebida como constitutiva e não meramente interpretativa, como nas confissões protestantes -, mas também sublinhou que, através da inspiração, a Escritura transmitiu a palavra de Deus sendo palavra (locutio) de Deus.
A tradição, por outro lado, é apenas um transmissor da palavra de Deus (cfr. Dei Verbum 9). Propôs-o também numa outra perspetiva: "A Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como o Corpo do próprio Senhor [...]. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a Sagrada Tradição (una cum Sacra Traditione), como regra suprema da sua fé, uma vez que, inspiradas por Deus e escritas de uma vez por todas, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus". (Dei Verbum 21).
Não se deve perder de vista que o objeto das sentenças é a Sagrada Escritura. Mas na Igreja, a Escritura sempre foi acompanhada e protegida pela Tradição. Este aspeto foi retomado, pelo menos em parte, pelos pensadores protestantes que, no diálogo ecuménico, utilizam a expressão Sola Scriptura numquam solaO princípio de Sola Scriptura refere-se, na lógica protestante, ao valor da Escritura, não à sua realidade histórica, que é certamente nunquam sola. Pode-se dizer, portanto, que as posições católica e protestante se aproximaram. No entanto, o cerne da questão continua a ser a relação intrínseca entre a Escritura e as tradições dentro da Tradição apostólica, ou seja, aquilo que foi transmitido pelos apóstolos aos seus sucessores e que ainda está vivo na Igreja.
Tradição apostólica
Já foi dito muitas vezes que Jesus Cristo não enviou os apóstolos para escrever, mas para pregar.
É certo que os apóstolos, tal como Jesus Cristo antes deles, recorreram ao Antigo Testamento, ou seja, às Escrituras de Israel. Entendiam estes textos como expressão das promessas de Deus - e, neste sentido, também como profecia ou anúncio - que se tinham cumprido em Jesus Cristo. Expressam também a instrução (torá) de Deus para com o seu povo, bem como a aliança (provisão, testamento) que Jesus leva a cabo.
Os textos do Novo Testamento, por outro lado, não são uma continuação ou imitação dos textos de Israel. Também nenhum deles se apresenta como um compêndio da Nova Aliança. Todos eles nasceram como expressões parciais - e, nalguns casos, circunstanciais - do Evangelho pregado pelos apóstolos.
Em todo o caso, na geração que se seguiu à dos apóstolos - tal como antes em S. Paulo, quando distinguia entre a ordem do Senhor e a sua própria (1 Cor 7, 10-12) - o princípio da autoridade estava nas palavras do Senhor, depois nas palavras dos apóstolos e nas palavras da Escritura. Isto vê-se nos padres apostólicos, Clemente, Inácio de Antioquia, Policarpo, etc., que mencionam alternadamente, como argumento de autoridade, as palavras de Jesus, dos apóstolos ou das Escrituras.
No entanto, a forma textual destas palavras quase nunca coincide com o que conservamos nos textos canónicos: os textos funcionavam mais como um auxiliar de memória para a proclamação oral do que como textos sagrados.
Observa-se uma mudança de atitude nas últimas décadas do século II. Dois factores contribuem para esta mudança.
Por um lado, o cristianismo entra em contacto e contrasta com cosmovisões intelectuais desenvolvidas; em particular, com o platonismo médio - um platonismo banhado em estoicismo moral - e com o gnose do século II, que propunha a salvação pelo conhecimento. Alguns mestres gnósticos viram no cristianismo - expressão originária de Inácio de Antioquia - uma religião que poderia ser coerente com sua visão de mundo. Basilides, no início do século II, foi talvez o primeiro a entender os escritos do Novo Testamento como textos fundamentais para o seu ensino gnóstico, e outros, como Valentinus e Ptolomeu, já na segunda metade do século II, foram intérpretes agudos das Escrituras, que alinharam com o seu sistema.
São Justino, contemporâneo, e talvez colega, de Valentiniano, já assinalava que os ensinamentos destes mestres dissolviam o cristianismo no gnosticismo e que, por isso, os seus autores eram hereges - é Justino que cunhou a palavra com o sentido de desvio, já que antes significava apenas escola ou fação - embora sem propor razões profundas. Por outro lado, no final do século II, a ideia de uma tradição oral fiável já tinha enfraquecido: já não há discípulos dos discípulos dos discípulos dos apóstolos - talvez Santo Ireneu seja a exceção. Quando isto acontece numa comunidade cultural ou religiosa, como já foi referido, as comunidades criam artefactos que preservam uma certa memória cultural ou religiosa, e o artefacto de conetividade por excelência é a escrita.
A grande Igreja, olhando de soslaio para os hereges gnósticos, tomou três decisões que, no seu conjunto, preservaram a sua identidade. Bento XVI (cf. Discurso no encontro ecuménico de 19.08.2005) referiu-se a elas mais do que uma vez: primeiro, estabelecer o cânone, onde Antigo e Novo Testamento formam uma única Escritura; segundo, formular a ideia de sucessão apostólica, que toma o lugar do testemunho; finalmente, propor "a regra da fé como critério de interpretação das Escrituras.
A importância de Santo Ireneu
Embora esta formulação possa ser encontrada em muitos teólogos da época - Clemente de Alexandria, Orígenes, Hipólito, Tertuliano - na véspera do 1900º aniversário do seu nascimento, é quase obrigatório olhar para Santo Ireneu para descobrir a modernidade do seu pensamento.
A sua obra mais importante, Desmascaramento e refutação da pretensa mas falsa gnosepopularmente conhecido como Contra as heresias, tem em conta tudo o que foi dito até agora. Após alguns prefácios, começa da seguinte forma: "A Igreja, espalhada por todo o universo até aos confins da terra, recebeu dos Apóstolos e dos seus discípulos a fé num só Deus Pai, Soberano universal, que fez... e num só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos Profetas...".. Santo Ireneu segue o texto com uma fórmula que, noutro lugar, ele chama de "regra [cânone, em grego]. de fé [ou da verdade]". Esta regra de fé não tem forma fixa, pois, transmitida pelos apóstolos, é sempre transmitida oralmente no batismo ou nas catequeses baptismais. Refere-se sempre à confissão das três pessoas divinas e à ação de cada uma delas.
É reconhecível em toda a Igreja, que "[...] e a prega, ensina e transmite [...]. As igrejas da Germânia não crêem de modo diferente, nem transmitem outra doutrina que não seja a pregada pelas da Ibéria". (ibid. 1, 10, 2). Por isso, tal como a Tradição apostólica, é pública: "está presente em todas as Igrejas para ser percepcionada por quem realmente a quer ver". (ibid. 3, 2, 3), ao contrário do gnóstico, que é secreto e reservado aos iniciados.
Além disso, a regra poderia ser suficiente, uma vez que "muitos povos bárbaros dão o seu consentimento a esta ordenação, e acreditam em Cristo, sem papel nem tinta [...], guardando cuidadosamente a antiga Tradição, acreditando num só Deus. [segue outra confissão trinitária, expressão da regra de fé]" (ibid. 3, 4, 1-2).
No entanto, a Igreja tem uma coleção de Escrituras: "A verdadeira gnose é a doutrina dos Apóstolos, a antiga estrutura da Igreja em todo o mundo, e o que é típico do Corpo de Cristo, formado pela sucessão dos bispos, aos quais a Igreja recebeu o seu próprio nome. [os Apóstolos]. confiada às igrejas de cada lugar. Assim, chega até nós, sem ficção, a custódia das Escrituras na sua totalidade, sem tirar nem acrescentar nada, a sua leitura sem fraude, a sua exposição legítima e afectuosa segundo as próprias Escrituras, sem perigo e sem blasfémia". (ibid. 4, 33, 8).
É sobre este último ponto que se deve concentrar a atenção. A regra (cânone) da fé é aquele que interpreta corretamente as Escrituras (ibid. 1, 9, 4), porque coincide com elas, uma vez que as próprias Escrituras explicam a regra da fé (ibid. 2, 27, 2) e a regra da fé pode ser desvendada com as Escrituras, como faz Santo Ireneu no seu tratado Demonstração (Epideixis) da pregação apostólica.
Esta interpenetração entre a regra de fé e as Escrituras explica bem outros aspectos. Em primeiro lugar, cada uma das Escrituras é corretamente interpretada através das outras Escrituras. Em segundo lugar, ao longo do tempo, a palavra "regra/canão", aplica-se, em primeiro lugar, ao cânone da Escritura, que é também a regra da fé.
Professor de Novo Testamento e Hermenêutica Bíblica na Universidade de Navarra.