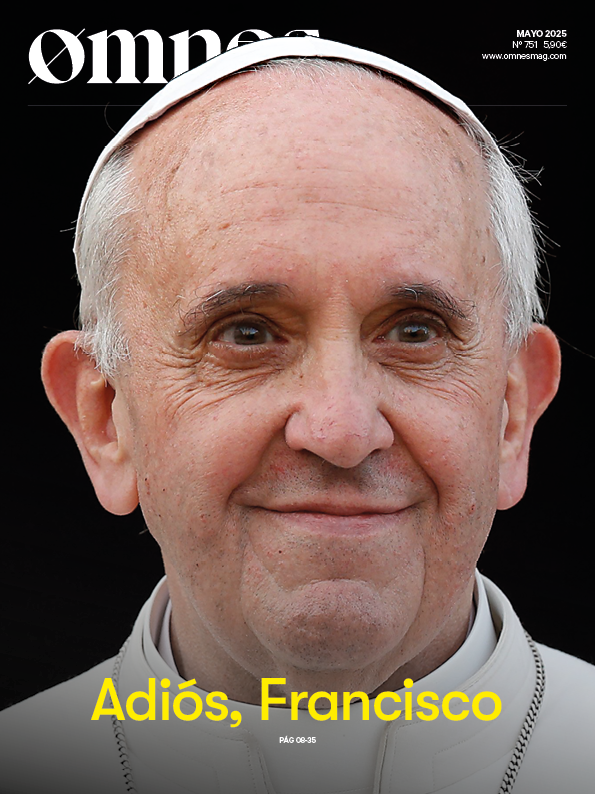Há alguns anos atrás, muitos problemas podiam ser resolvidos sem recorrer a um juiz ou a um tribunal. Isto foi possível porque havia um substrato moral comum. Não é este o caso hoje em dia.
Os grupos religiosos não podem fugir a esta juridificação. Isto não é porque as religiões o querem, mas porque aquilo a que Carl Schmitt chamou "legislação motorizada" (ou seja, a produção desenfreada de normas estatais para fixar tudo) está presente em sectores da sociedade civil que anteriormente eram deixados à livre disposição de indivíduos e grupos, incluindo o sector religioso.
É por isso que, tendo em conta os relatórios judiciais que enchem a imprensa, estou cada vez mais convencido de que as igrejas não precisam apenas de crentes fervorosos, de ministros exemplares de culto ou de belos locais de culto. Também precisam de bons advogados. E não pequena dose de mentalidade legal.
Um exemplo entre muitos. A 22 de Fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal espanhol teve de decidir, face a uma decisão da Agência Espanhola de Protecção de Dados desfavorável às Testemunhas de Jeová, quais os dados pessoais específicos de um antigo membro de uma denominação religiosa que podem ser conservados. O que é menos importante é a decisão, que ratifica que apenas os dados mínimos podem ser mantidos para que a denominação religiosa possa cumprir os seus objectivos. O que é mais importante é o debate substantivo. Ou seja: poderia argumentar-se, não sem alguma base, que as religiões são autónomas ou independentes do direito estatal: gozam de autonomia na gestão dos seus assuntos internos, o libertas ecclesiae que se desenvolveu na Idade Média, face ao poder temporal. Mas ao mesmo tempo, cada acção de um grupo religioso ou parte dele tem uma dimensão jurídica que não pode ser ignorada, o que deve ser tido em conta... Isto leva-nos a uma delicada operação de demarcação dos limites de competência entre o sagrado e o profano.
Professor do Direito Eclesiástico Estatal